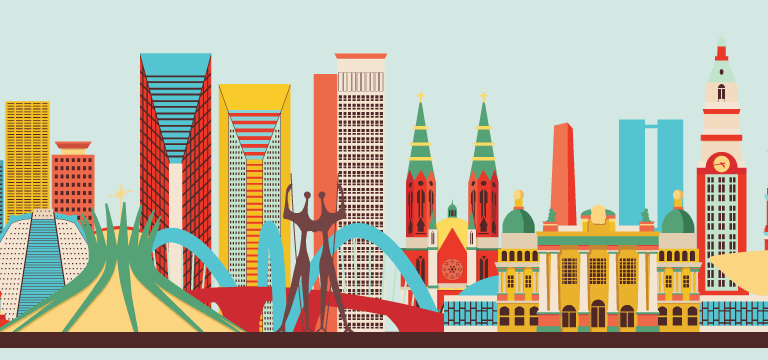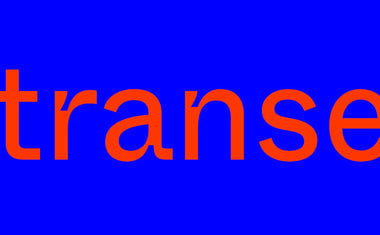| Foto: Getty Images |
 |
Vamos combinar uma coisa? Depois de ler esse texto não vale o argumento de que os tempos são outros, os costumes mudaram e blábláblá. Combinado?
Fui ao teatro recentemente conferir uma obra que há um tempinho ensaiava. No entanto, sempre um filme cortava a fila ou algum amigo chamava para alguma outra coisa, atrapalhando os planos. A peça Maria Stuart, com Júlia Lemmertz e Lígia Cortez nos papéis das irmãs Maria e Elizabeth, voltou a Sampa depois de rodar algumas capitais. Bati o martelo de que esse era o momento. Com duas semanas para o final da temporada, apenas dez ingressos estavam disponíveis para as últimas quatro apresentações. Comprei dois, presenteei um amigo e planejei a ida feliz da vida. Bom, até começar a apresentação.
Cresci com a imagem de grandes nomes do teatro que, ao serem questionados sobre o palco, diziam estar em um lugar sagrado, como num templo, ou algo assim. É uma pena que uma boa parte das pessoas que se sentam em uma cadeira não tem - e nem respeita - essa devoção.
A minha última experiência - essa que enrolei até agora e nada disse - foi um desses exemplos. Vamos aos fatos: 20 minutos antes das cortinas se abrirem, estávamos lá. Para ilustrar a minha pontualidade, passei por um saguão cheio e adentrei numa sala que ainda estava no breu. Rubro, voltei e me juntei aos que esperavam. Minutos depois, o sinal e todos lá dentro - agora sim tudo aceso.
Começava o espetáculo. Já de cara, o texto apresentou-se denso, com uma linguagem rebuscada mesmo. A concentração fazia-se necessária. Impossível! Como tê-la com alguém ao seu lado que, achando ter pernas com mais de dois metros, fazia questão de invadir o meu espaço com joelhos com circunferência de uma pizza? Não hesitei: ia de encontro deixando claro "aqui é meu!". Toda vez que ele insistia em querer dominar e me afunilar naquele quadrado, o meu entrava em ação para barrá-lo. Não contente, o cidadão, um homem de seus 40 e poucos anos e muito grande - sim, eu poderia ter levado uma bifa na cara - sacou a sua garrafa de água e deu goles daqueles que emitem "gluts" muito altos, fazendo com que eu visualizasse todo o líquido descendo a sua garganta. Mas essa figura reservaria mais. Sem cerimônia, arrancou do paletó uma caixinha de Tic Tac e, assim como quem se apodera de um pandeiro, chacoalhou aquilo como se nada fosse sair de dentro.
Ofereceu para a companheira que, vez ou outra, comentava alguma coisa em seu ouvido, naqueles cochichos irritantes. Seria uma afronta se ele tivesse me oferecido. Minha vontade era dar um tapa e fazer voar todas aquelas balinhas brancas. Claro que jamais o faria, por respeito a Júlia que, há poucos metros dali brilhava em uma encenação altiva - ok, ainda tinha medo da bifa na cara. Jurei que fosse ficar em paz quando, cinco minutos depois, percebo que ele havia dormido. Um intervalo: Desculpe, Lígia, sei que é uma afronta alguém dormir num momento em que você atua majestosamente, mas antes alguém adormecer ao meu lado do que eu perder a sua encenação.
De novo com o desabafo, aquela noite estava fadada a ser um festival de aberrações. Na fileira da frente, mais uma caixa de Tic Tac apareceu. É moda agora? Alguém disse: "Galera, vamos levar Tic Tac para o teatro. Uhu!", e todos entraram na onda? É isso!?
Outras duas senhorinhas distintas, daquelas que vão de tailleur e cabelinhos moldados no laquê, dormiam um sono profundo. Uma delas estava com a cabeça quase no meio das pernas. Como assim? Por que não ficou em casa assistindo ao Globo Repórter?
Atrás, sim, bem atrás, uma outra abriu - umas quatro vezes - o zíper de sua bolsa para pegar balinhas. Imagina o silêncio e aquele zíper chato sendo aberto em slow motion. Para piorar, ela repetiu o mesmo processo com as balas. Tem coisa pior que tentar desembrulhar balar devagar? Tira o papel logo de uma vez, meu pai!
Ao seu lado, o marido insistia em dançar lambada na cadeira. Num esfrega esfrega, o homem parecia ter acariciado as partes íntimas num ramo de urtiga e decidiu passar algumas horas ali, bem atrás de mim. Na mesma fileira, um pouco mais à esquerda, um rapaz - solitário, coitado - exibia suas meias brancas - cafona! - em pés prostrados no encosto da cadeira da frente. Ah, tudo bem, ela estava desocupada e ele, tão enternecido com a peça, sentiu-se em casa e tirou os sapatos, né! Sejamos tolerantes.
Na frente, quase de cara com o elenco, uma doida numa crise de tosse preferia abafar o som a soltá-lo e acabar de vez com aquilo. Ou melhor: por que não saiu para tomar um ar, beber uma água, respirar?
Ficava me indagando se os atores ali, naquele momento de entrega e puro drama, não tinham vontade de mandar aquela mulher catar coquinho? Se eu, lá na fileira K ouvia tudo, como eles não? Jamais seria ator, iria arrumar cada fuzuê...
Para fechar o pacote, é evidente que o soar de um telefone se fez presente.
A minha perplexidade se dá naquela velha história de que modos e atitudes continuam como nossos avós ensinaram quando o assunto é lugar público. Se no cinema já é inconcebível bate-papo e celular, o que dirá no teatro, linguagem que requer muito mais atenção e doação por parte do espectador. Enquanto na tela grande temos plano-americano e close, no teatro é preciso captar o todo de uma só vez. A falta de respeito não é só com o fulano que está ao lado, mas também é com uma equipe que desenvolveu aquilo durante meses para oferecer arte com qualidade. E não me venha com o bordão de "Tô pagando", que iremos começar outra discussão...
 Quem é o colunista: Alessandro Fiocco.
Quem é o colunista: Alessandro Fiocco.
O que faz: Jornalista e dublê de várias outras funções.
Pecado Gastronômico: Louco por pastéis. Mas também apreciador de um bom risoto e de uma boa massa.
Melhor lugar do mundo: O centro de São Paulo desvendado a pé; minha casa para ficar jogado.
Fale com ele: [email protected].
Atualizado em 6 Set 2011.