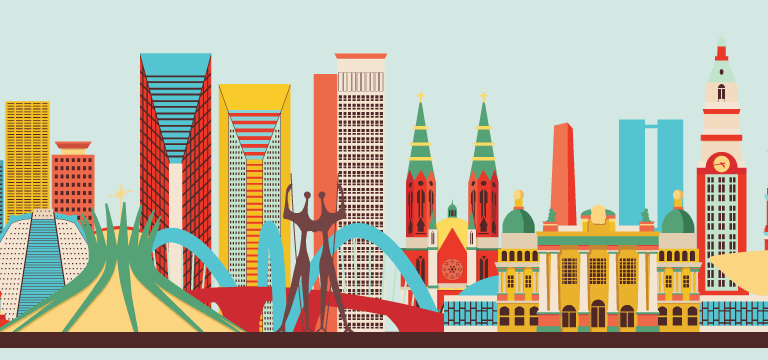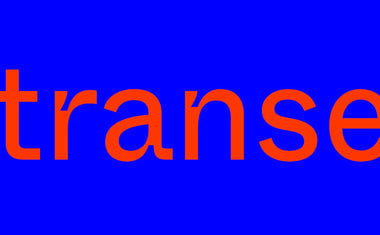| Foto: André Stefano |
 |
A partir de um certo instante, sobrevoa uma fina nuvem, formada pelos cigarros fumados pelos atores e que, dado o desenho da sala do Satyros 1, lentamente avança em direção ao público. E o atinge, quase ao fim do espetáculo, incluindo-o na atmosfera da narrativa, enquanto um silencioso e longo abraço é construído ao fundo da cena. Dos copos de conhaque e latas de cerveja, surgidos sobre a mesa de madeira gasta, restam a ausência do hálito, da fala explícita ao sussurrar desculpas, ao aceitar a vida, após tantas falas cruzadas de destruição do outro e buscas de compreensão de si mesmo.
Em Uma Pilha de Pratos na Cozinha, Mário Bortolotto finaliza a trajetória de toda uma geração em encontrar um destino. Ou um sentido... Os jovens de ontem caminharam sem perspectivas, expostos a história de uma geração anterior, que se autodenominava atitude. E na ausência de qualquer ideal, na solidão do pertencer ao meio do caminho, sem horizontes ou curvas possíveis, o dramaturgo traduz a incapacidade em personagens à espera da morte.
Entretanto, não estão nos diálogos os gritos mais preciosos, mas naquilo que não é dito e que não poderá mais ser revelado. Assim é feito o pedido de socorro, o acolher do inevitável, em belíssima interpretação de Paula Cohen.
Perdemos o futuro, restando-nos apenas o passado. O que, no caso dos personagens de Uma Pilha de Pratos..., serve apenas para recordar-lhes suas incapacidades. Assim, a peça metaforiza sobre o próprio sentido do existir, expondo o tempo como inimigo inatingível.
E vai além, ao revelar não ser o tempo em si nosso adversário maior, e sim nós mesmos. Ao perdermos o contato com o próprio presente, sobra o passado insolúvel e imutável, como inevitável companheiro. Recordações, memórias e sonhos se distanciam enquanto, paradoxalmente, colam-se em nossa existência, tornando-nos uma opaca imagem do que fomos, misturada ao que não seremos, obrigando-nos a construir outro passado. O futuro, então, torna-se passado na forma de desejo. Desejo de dar ao todo, um dia, outro sentido, outro argumento à existência, outra interpretação que justifique o antes, levando-o a nos explicar diferentemente melhor.
Portanto, não é o tempo o mais cruel antagonista, e sim, nossa própria falência em sermos.
É pela boca de Paula Cohen que entendemos que passamos a vida sem notá-la e que a morte deve ser assistida lúcida, em plenitude, pois só se morre uma vez. Sem bebedeiras e quaisquer entorpecimentos, seremos obrigados a conviver com o inevitável e assim dar-lhe sentido, para nele, buscarmos o nosso próprio. Olhar a morte nos olhos. Ou a vida. O amanhã. Ou o agora. Bortolotto ajusta um texto à beira de janela, tanto quanto seu personagem, que enfrenta o parapeito do apartamento, criando uma trama onde a culpa se confronta com a piedade e o cinismo é instrumento de distanciamento e cegueira.
A pilha de pratos na pia cresce à medida que desistimos de dar sentido ao nosso próprio existir. Os cinzeiros se multiplicam quantificando em restos o tempo de nossas ausências. A poltrona rasgada ao uso, a porta sem tranca, o tapete envelhecido e gasto. O espetáculo silencia a vontade de fala, exige-nos o reencontro, o abraço mudo. E não é à toa que a chuva surge no meio do espetáculo. Como para nos avisar de que, para ouvir os trovões, é preciso estar vivo...
Mas somos apenas espectadores de um circo exibicionista de personagens fictícios. Então saímos do teatro abandonando poltronas e artistas feitos uma inócua neblina cinza a vagar sem sentido e valor, até, simplesmente, sumir misturada ao vento, enquanto esquecemos de que nuvens não podem ser abraçadas.
Leia colunas anteriores de Ruy Filho:
? Um espetáculo não se resume ao palco
? Criamos Nossas Próprias Tempestades
? Zé Celso:
 Quem é o colunista: Ruy Filho.
Quem é o colunista: Ruy Filho.
O que faz: diretor e dramaturgo.
Pecado gastronômico: carpaccio de pato do Piselli.
Melhor lugar do Brasil: Salvador fora de temporada.
Fale com ele: [email protected] ou acesse o blog do autor
Atualizado em 6 Set 2011.